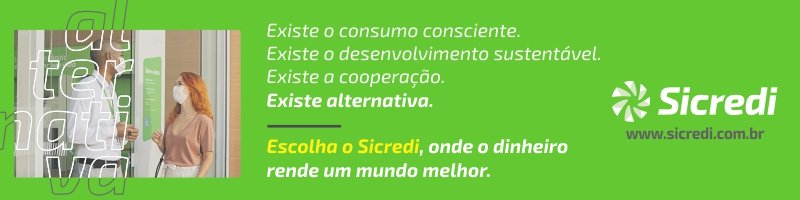O vice-prefeito de Sinop, no norte de Mato Grosso, anda irritado com o prefeito do município. Dalton Benoni Martini (PTB), 65, foi eleito em 2020 para ser o número dois da prefeitura, depois de exercer por quatro vezes o mandato de vereador.
Prefeito e vice-prefeito brigaram e, agora, são inimigos políticos. “Tenho paixão por essa cidade. A gente ia fazer uma administração a quatro mãos. Estamos rompidos”, diz Martini, bolsonarista que tentou se eleger deputado federal em 2022, sem êxito.
A briga com Roberto Dorner (Republicanos), porém, está longe de ser o principal embate travado por Martini, gaúcho que vive em Sinop desde 1978 e que ganhou dinheiro com o agronegócio — especialmente com pecuária e plantação de soja e milho — e com a exploração de madeira. O empresário ocupou terras produtivas a pouco mais de 200 km de Sinop, no início da década de 1990, e desde então se dedica a negar a existência dos indígenas kawaiwetes — os kayabis, como são conhecidos— da Terra Indígena Batelão, onde estão as fazendas de Martini.
“Nunca teve indígena lá”, afirma o vice-prefeito, que se apossou de 10 mil hectares do território tradicional para criar gado, plantar soja e milho e explorar madeira numa área da Amazônia que já foi preservada um dia. “Índio não quer mais terra. Quer viver como branco.”
As palavras de Martini fazem parte de uma ampla estratégia —política, judicial e econômica— para apagar a história dos kayabis. A Terra Indígena Batelão, com 117 mil hectares, é considerada o berço dos kayabis. Já na década de 1940, o governo de Mato Grosso passou a vender ilegalmente pedaços de terra a quem quisesse explorar a área.
Na década de 1960, em razão de sucessivas invasões e conflitos, principalmente com seringueiros, uma parcela expressiva dos kayabis foi levada pelos irmãos sertanistas Villas-Bôas ao Território Indígena do Xingu, sem consenso e sem aceitação por boa parte das famílias. Alguns resistiram e permaneceram em terras próximas do Batelão, usadas pelos indígenas para caça, pesca e coleta de material para confecção de arco, flecha e peneira.
Muitos fizeram o movimento de volta, do Xingu a essas áreas, que foram demarcadas como uma terra indígena. Nas décadas seguintes, produtores rurais como Martini passaram a ocupar e a desmatar o Batelão, para pastagem, gado, monocultura e exploração de madeira. São mais de 20, segundo o vice-prefeito.
Quando conversou com Martini, em seu escritório em Sinop, a Folha o questionou se o que ele fez foi grilagem, ou seja, se avançou sobre áreas que não eram suas para, com base em uma ocupação e em documentos ilegais, garantir a propriedade dos terrenos. Martini nega.
“Não é grilagem porque essas áreas foram vendidas pelo governo de Mato Grosso, nas décadas de 1950 e 1960. As minhas, o governo doou para uns belgas”, afirma.
“Cheguei, ocupei e coloquei gado”, diz Martini. “Comprei do seu Anísio”, completa, sem detalhar quem seria o antigo ocupante da terra.
Depois, o produtor rural entrou na Justiça com uma ação de usucapião, com o propósito de comprovar que “estava lá” e que comprou a área há 30 anos. “Os belgas foram localizados no processo. Eu não tinha o título, agora tenho a escritura definitiva.”
Enquanto grandes fazendeiros avançavam cada vez mais pelo território, a ponto de já não existirem mais aldeias e indígenas na terra Batelão, a Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) passou a elaborar estudos para a demarcação da área. Em 2007, o Ministério da Justiça analisou a proposta apresentada pela Funai, considerou que o território era “tradicionalmente ocupado pelo grupo indígena kayabi” e declarou a posse permanente da terra indígena pelos kayabis, uma etapa que antecede a demarcação definitiva, cuja homologação fica a cargo do presidente da República.
No ano seguinte, o ministério recuou do ato, em atendimento a uma decisão judicial. Os fazendeiros que ocupam o Batelão ingressaram na Justiça para barrar a demarcação.
Em 2016, uma decisão da Justiça Federal em Mato Grosso reconheceu a terra indígena como sendo dos kayabis. Novos recursos foram apresentados ao TRF (Tribunal Regional Federal) da 1ª Região, que apontou o direito de os fazendeiros fazerem novas perícias.
O impasse jurídico permanece. “Os kayabis requerem essa área, como memória, mas a perícia está inconclusiva até agora”, afirma o vice-prefeito. “Enquanto isso, tenho dificuldade de vender meus produtos para trades e frigoríficos, de obter financiamento, de georreferenciar a área. No Sigef [Sistema de Gestão Fundiária, do Incra], aparece como terra indígena. Quem quer comprar de uma terra indígena?”
De Sinop, a Folha foi até a Terra Indígena Batelão, a poucos quilômetros do município de Tabaporã (MT) —as cidades são separadas por cerca de 200 km. A reportagem também foi à Terra Indígena Apiaká-Kayabi, onde estão os kayabis mais próximos do Batelão. O território é demarcado e fica a 50 km de Juara (MT), que por sua vez está a 170 km de Tabaporã.
No Batelão, vastas plantações de soja e milho ocupam cada vez mais espaço. O mesmo ocorre com pastagem e gado. Há sinais de exploração de madeira, com placas indicando manejo para essa atividade.
Martini fixou pelo menos duas placas na área. Uma diz: “Fazenda Nova Andradina (Tucandira). Prop. Dalton Benoni Martini.” A outra aponta: “Fazenda Arara Azul. Proprietário: Dalton B. Martini.” Na primeira fazenda, há casas simples de madeira para caseiros e grandes áreas com gado. Na segunda, a ocupação parece ser mais recente.
As áreas verdes encolhem no mesmo ritmo do avanço das plantações, do gado e da exploração de madeira. Em 2010, Martini chegou a ser preso em operação policial contra exploração ilegal de madeira, como ele mesmo conta. Segundo o vice-prefeito, a atividade era legal. Ele continua explorando madeira na área da terra indígena, conforme afirmou à reportagem.
Na terra Apiaká-Kayabi, cujas aldeias margeiam o rio dos Peixes, estão indígenas que dizem não esquecer o Batelão. O território é uma mancha verde na região de Juara, cidade que segue a mesma lógica de monocultura e gado presente em municípios como Sinop, Sorriso e Tabaporã.
Na aldeia Tatuí, a Folha conversou com três indígenas que dizem ter nascido no Batelão —e que passaram por processos de diáspora que estão no cerne do esvaziamento da terra indígena. Canisio Kayabi, 73, guarda numa pastinha amarela a reprodução ampliada de fotos do cacique do Batelão levado ao território do Xingu pelos irmãos Villas-Bôas; fotos de parentes do cacique que tiveram o mesmo destino; e mapas feitos à mão da terra indígena, com a localização de aldeias, a partir da memória e de visitas posteriores ao lugar.
“Fui para o [território do] Xingu entre 1965 e 1966. Havia conflito com seringueiro. Fui com 15 seguranças dos Villas-Bôas”, diz Canisio, que prefere falar na língua-mãe. A tradução foi feita por um de seus filhos, Kawayp Katu Kayabi, 37, presidente da Associação Indígena Kawaiwete. “Eu gostava do Xingu, mas queria vir para cá. Eu nasci aqui”, afirma. “Batelão ficou vazio, mas quem é de lá nunca esqueceu.”
Os 12 filhos de Canisio nasceram na reserva do Xingu. Quatro permanecem no território, oito se mudaram para a terra Apiaká-Kayabi, onde ampliaram suas famílias.
A maioria vive da coleta de castanha, pesca, caça, produção de farinha e pequenas plantações de banana, com comercialização de excedentes. Há invasores atrás de madeira, e relatos de conivência por parte de alguns indígenas.
Para trás ficaram os ancestrais, segundo Canisio. Estão enterrados na terra indígena seus avós, bisavós e tataravós.
Canisio já esteve com Martini, na aldeia onde mora desde que deixou o Xingu. “Ele fala bonito. Tenta levar na conversa dele, que índio não quer mais terra. Mas aqui ninguém esqueceu.”
Kawit Kayabi, 78, cunhado de Canisio, afirma o mesmo: “Não esqueci a área [do Batelão]. Não me acostumei no Xingu. Eu ficava só pensando. Lá não tinha o material que a gente precisa para fazer arco, flecha, peneira.”
O pai e o avô de Luciano Tamaná Kayabi, que tem mais de 70 anos, estão enterrados no Batelão, segundo ele. “Naquele tempo, havia espaço livre para fazer roça. A gente ia mudando”, diz Luciano. “Os próprios fazendeiros emprestavam avião para levar os índios. A FAB [Força Aérea Brasileira] também levou, tirou o índio do lugar dele. Muitos não queriam ir, com dó de deixar as roças e os parentes enterrados.”
O indígena afirma não ser justa a premissa de que é preciso esperar uma decisão definitiva da Justiça. “Dizem que é para esperar a Justiça, mas são os fazendeiros que estão lá, não somos nós. Tenho esperança de recuperar o Batelão. O lugar sempre foi nosso, nosso povo está lá.”
Por duas vezes, grupos de kayabis tentaram ingressar na terra Batelão. Foram barrados por fazendeiros e seguranças. “Se passarem, vão levar chumbo na cara”, ouviram alguns indígenas numa das tentativas.
Martini, o vice-prefeito de Sinop, disse que a Justiça já reconheceu boa-fé na ocupação da área. “Tem bastante área preservada ainda. E desde 2006 não tem autorização para desmatamento, por causa dessa questão de terra indígena.”
O avanço de grandes produtores rurais por áreas preservadas da Amazônia, a exemplo do político de Sinop, foi detectado pelo Simex (Sistema de Monitoramento da Exploração Madeireira), que usa imagens de satélite para mapear locais com esse tipo de atividade. A análise é feita pelas organizações Imazon, Imaflora, Idesam e ICV (Instituto Centro de Vida).
Os dados mais recentes do sistema, de 2021, apontam para ao menos quatro casos de extração não autorizada de madeira em Mato Grosso entre agosto de 2020 e julho de 2021, envolvendo áreas protegidas e indícios de grilagem. Sobre essas áreas em que não poderia haver retirada de madeira, por serem estações ecológicas e terras indígenas, foram registrados CARs (Cadastros Ambientais Rurais), documentos necessários para a regularização de terras no Brasil. O registro de CARs por grileiros é frequente, uma vez que o dispositivo depende de autodeclaração na etapa inicial.
O banco de dados da pesquisa registra dois casos de produtores de Sorriso, cidade a 85 km de Sinop. Há indícios de exploração ilegal de madeira na Estação Ecológica do Rio Roosevelt, em Colniza (MT), em áreas coincidentes com as indicadas em CARs feitos em nome dos dois empresários.
Um é Fernando Pozzobon, integrante do conselho do Sindicato Rural de Sorriso e presidente da cooperativa dos produtores de algodão da cidade. “A área foi adquirida para regularização ambiental. Vou pedir para averiguarem se essa exploração de madeira atinge a propriedade”, disse.
O outro é Darcy Ferrarin, também integrante de sindicato e grande produtor de algodão, soja e gado nelore. Procurado pela reportagem, disse estar de férias em Santa Catarina e que não sabia sobre o que se tratava.
No Batelão, o ímpeto é ocupar áreas ainda não exploradas, também com exploração de madeira. Na última vez em que esteve na terra indígena, Canisio Kayabi disse ter ouvido de um fazendeiro: “Vou tirar toda a madeira. Vou derrubar e ocupar”. Era uma maneira de reafirmar ao kayabi a ideia de não pertencimento do indígena ao lugar.
Em abril, lideranças kayabis foram a Brasília para uma reunião com a presidente da Funai, Joenia Wapichana. Pediram pressa na demarcação da terra Batelão.
Canisio tem esperança de voltar à terra indígena onde nasceu. “Quem está falando a verdade? Somos nós ou são os fazendeiros?”
O PROJETO BRUNO E DOM
Esta reportagem faz parte de O Projeto Bruno e Dom, consórcio internacional de imprensa envolvendo mais de 50 jornalistas de 16 organizações de mídia, sob coordenação da Forbbiden Stories, entidade que se dedica a dar continuidade ao trabalho de jornalistas assassinados no exercício da profissão.
A Folha integra o consórcio. O indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips foram mortos no Vale do Javari (AM) em 5 de junho de 2022. A ocupação de terra na Amazônia era um dos assuntos a que o britânico se dedicava.
Fonte: Folha de são Paulo